Saudades da Ave Azul, Beatriz
Mais uma vez mergulho meus olhos, de onde brota uma lágrima furtiva, nos dois maços da Ave Azul e não posso deixar de sentir um misto de orgulho e de saudade. No dobrar do século, o Carlos e eu, parceiros inseparáveis na vida, na arte e na escrita, soubemos pôr de pé um projecto editorial que pretendia cruzar a arte com a crítica. Projectos há que parece terem vida própria, a puxarem os seus criadores para além do idealizado. Assim aconteceu com a Ave Azul. Voou!
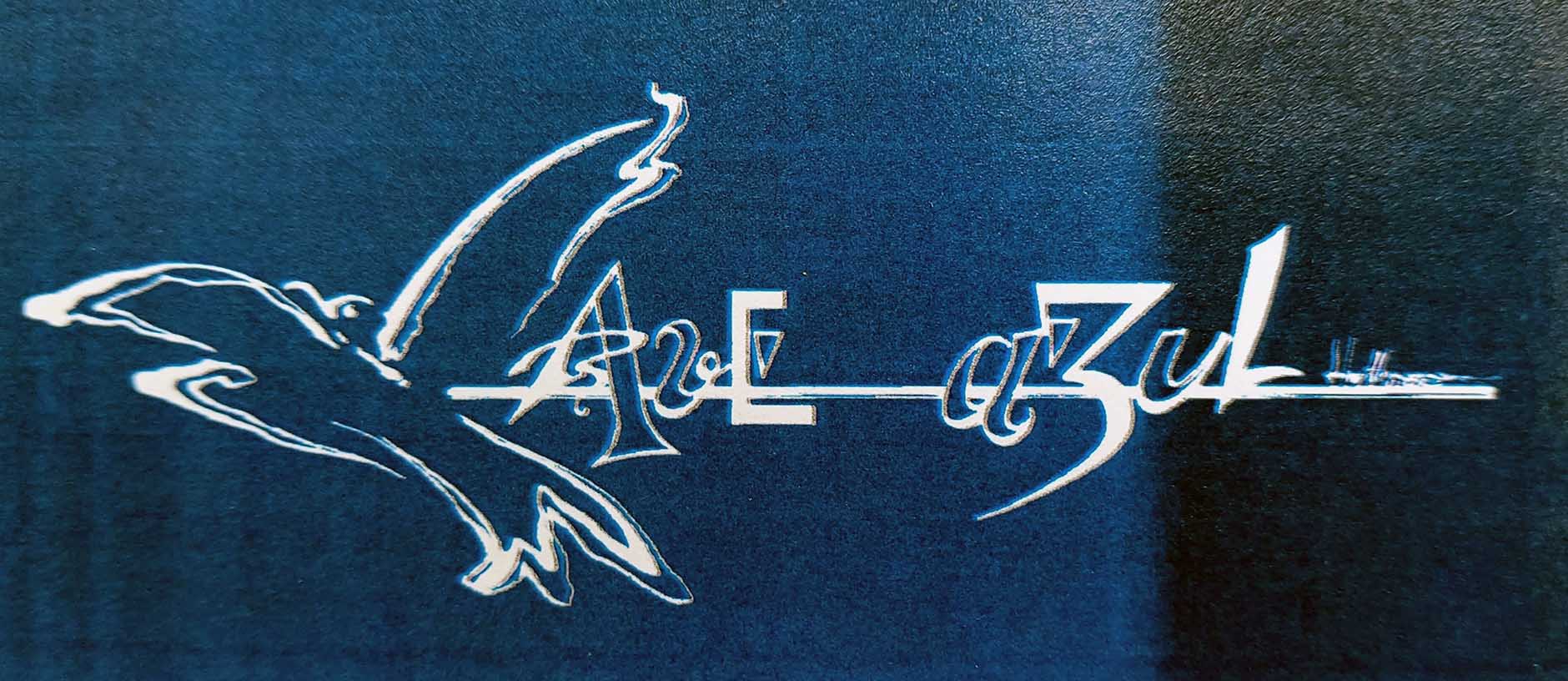
Janeiro de 1922
Neste Janeiro frio, nada comparável aos frios Janeiros da minha terra beirã, mas, mesmo assim, frio, mergulho as mãos em arcas velhas repletas de papéis. Papéis envelhecidos pelo tempo, com letras um pouco apagadas, as pontas reviradas e tisnadas pelo uso. Tremulamente as minhas mãos, que começam a revelar a passagem dos anos, folheiam páginas e páginas escritas, umas impressas, sobras de artigos em jornais antigos, outras manuscritas, emendadas, reescritas, rasuradas, reemendadas. Encontro ainda provas tipográficas com anotações dum vermelho bem debotado lembrando o sangue que, pingando das carcaças bovinas expostas nos talhos, seca no empedrado escurecido da calçada.
Os meus dedos, não tão ágeis como em tempos foram, ameaçados por artroses dilacerantes, desatam os nós dos cordéis acinzentados que prendem dois pesados maços de papel impresso. De meus olhos, a precisarem já de umas lunetas esclarecedoras, brota, sem o querer, um rio de lágrimas ao depararem com as duas séries intactas da Ave Azul. A minha Ave Azul! Sonhada, pensada, discutida, concretizada na rua Nossa Senhora da Piedade, em Viseu, a minha cidade natal, e daí enviada pelo correio para todo o país. Extravasando as nossas fronteiras, para lá dos Pirenéus arribava a França, Itália… Chegava a muito lado, às casas de quem a quisesse assinar. Em troca, recebia textos variados de múltiplos colaboradores. Sei que as senhoras a liam e a Ave Azul fez-se arauto de alguns dos seus poemas, daqueles poemas que, doutro modo, ficariam mirrados em fundo de gavetas. Umas, poucas, publicaram com o seu nome de baptismo. Outras, grande parte delas, usaram pseudónimos. Queriam esconder o estro que lhes rompia da alma, porque a mulher queria-se submissa e doméstica. As letras, os versos, as rimas não podiam emparceirar com o cerzir das camisas esgaçadas nos pulsos e nos colarinhos, não se aninhavam perto do fogão ressoando ao estrugido da cebola, nem tão pouco repousavam no cesto dos cueiros para dobrar. A mulher, repito, queria-se recatada, de olhos baixos presos no bordado comprimido no bastidor de madeira e os dedos, quando não amarrados ao movimento incessante da agulha, dedilhando as contas de um rosário de marfim, nada de livros, nada de leituras, nada de romances, nada de penas, nada de papeis virgens de escrita. A ler, que fossem os pesados livros de oração onde se suplica pelo perdão dos pecados e se incute o medo das labaredas do inferno.
Deixei-me perder na memória dum tempo que passou. Volto à Rua Nossa Senhora da Piedade onde nasci e onde residi parte da minha vida. Rua sinuosa que, lembrando uma cobrinha contorcionista, liga a Rua Nova à Rua Direita, terminando em frente ao Solar dos Treixedos. Entalada entre dois edifícios de rés do chão, primeiro e segundo andar, a minha casa, pintada de branco com rasgadas portadas verdes, abria-se àqueles que connosco quisessem discutir ideias, fossem elas artísticas, literárias, filosóficas ou políticas. Nesses dias, os dos saraus, liam-se textos muito diversificados, recitava-se poesia, fazia-se música. Eu tocava harpa. E os sons ecoavam nas pedras graníticas da calçada que cobriam as ruas da cidade. Diziam-me que muita gente vinha à janela ouvir-me. Ainda bem! Pena foi que não me ouvissem falar de outros assuntos, bem mais importantes que as notas tiradas à pressa da harpa que me pesava no ombro. Foi o contrário. Bajulavam os representantes de uma monarquia obsoleta, fazendo eco de ideias bolorentas que não deixavam de atirar homens e mulheres para uma servidão indigna dum tempo de progresso. E podiam ter-me ouvido quando defendi e levei a cabo o projecto das escolas móveis que levavam a escolarização básica aos adultos, homens e mulheres, bem como crianças a quem foi proibida a escola, porque havia bocas a clamarem por pão. Podiam ainda ter-me ouvido quando lutei pelo direito da mulher à educação, ao trabalho remunerado, à emancipação. Não me ouviram, não me quiseram, difamaram-me, escorraçaram-me. E o som da harpa deixou de reboar pelas ruas graníticas de Viseu. As portadas verdes cerraram-se para sempre e disse adeus ao Adro da Sé, ao largo do Mercado. Nunca mais desci a rua Nova, nem percorri as tendas da rua Direita. Virei as costas à cidade que, apesar de me ter visto nascer, não assistirá à minha morte. Nem tão pouco lhe lego o meu corpo. Não repousará no mesmo cemitério guardião dos restos mortais do meu amigo e camarada de luta, Alberto Sampaio, que tão novo se finou.
Mais uma vez mergulho meus olhos, de onde brota uma lágrima furtiva, nos dois maços da Ave Azul e não posso deixar de sentir um misto de orgulho e de saudade. No dobrar do século, o Carlos e eu, parceiros inseparáveis na vida, na arte e na escrita, soubemos pôr de pé um projecto editorial que pretendia cruzar a arte com a crítica. Projectos há que parece terem vida própria, a puxarem os seus criadores para além do idealizado. Assim aconteceu com a Ave Azul. Voou! Tanto voou que as suas asas alcançaram o que era praticamente desconhecido Portugal: a defesa do movimento feminista internacional e do seu ideário alicerçado educação, formação, trabalho e capacidade de voto para as mulheres. Em suma, a universalização dos direitos humanos, com a mulher como ser inteiro e absoluto.
Volto a folhear os números da Ave Azul. Dois anos de produção! E encontro poemas meus, críticas literárias e artísticas, crónicas, curtos ensaios sobre o feminismo, divulgação da Liga Portuguesa da Paz. Nesses anos, acreditava que o pacifismo, a grande ideia do século XIX, que perseguia a paz universal, faria o seu caminho e os dirigentes mundiais seriam obrigados a entender-se com vista à formação da comunidade das nações. Há cerca de vinte anos, achava que o único combate possível, a única guerra defensável, era a Guerra contra a Guerra. Como estava tão enganada. Fui ingénua? Não o creio. Defendia a minha crença numa sociedade pacífica e próspera. Hoje, na ressaca da horripilante, fratricida, mortífera, devastadora guerra que, durante quatro longo anos, assolou o mundo, continuo a achar que o único caminho viável para o progresso e a felicidade dos povos passa pela paz. Eu sei que defendi a entrada de Portugal no cenário europeu da guerra. Fi-lo por patriotismo, em apoio ao meu partido. Mas fi-lo cheia de angústia, inquietação e com o horror estampado no coração. Espero, sinceramente, que, daqui para a frente, saibamos unicamente trabalhar para a paz.
Continuo a folhear a Ave Azul e reparo que aqui publiquei muitos dos meus contos. Estórias sofridas de mulheres sofredoras, marcadas pelo abandono e pela morte, a sua e dos que lhe eram próximos. Mulheres suicidas, mulheres assassinas, mulheres que se deixam morrer com uma insuportável dor de alma. Mulheres em inconsciente rota de colisão com as imposições da sociedade. Enfim, mulheres que se reinventavam na solidão, que se deixam morrer de saudade e de dor, que provocam e atraem a morte. Curioso. Nunca tive qualquer intenção de transformar estes contos em livro. Não sei porquê. Não aconteceu. Mas o que eu sei, é que foram estas reflexões, tornadas contos, sobre mulheres infelizes que me levaram a defender ardentemente e a lutar com todas as minhas forças pelo ideário feminista.
Eu feminista me confesso e feminista serei mesmo depois da minha partida para a eternidade.
Caiu a noite. É bonito o entardecer em Lisboa. O céu adquire cor de azul cobalto. Sem me dar conta, passei a tarde mergulhada recordações agridoces. Os papéis voltam para as arcas. Fecho-as com carinho. Ficam as saudades da minha Ave Azul. Qualquer dia, vou com as aves…
Nota: Beatriz Pinheiro faleceu em Lisboa a 14 de Outubro de 1922, a quinze dias de completar 51 anos.
Anabela Silveira
Janeiro 2021

