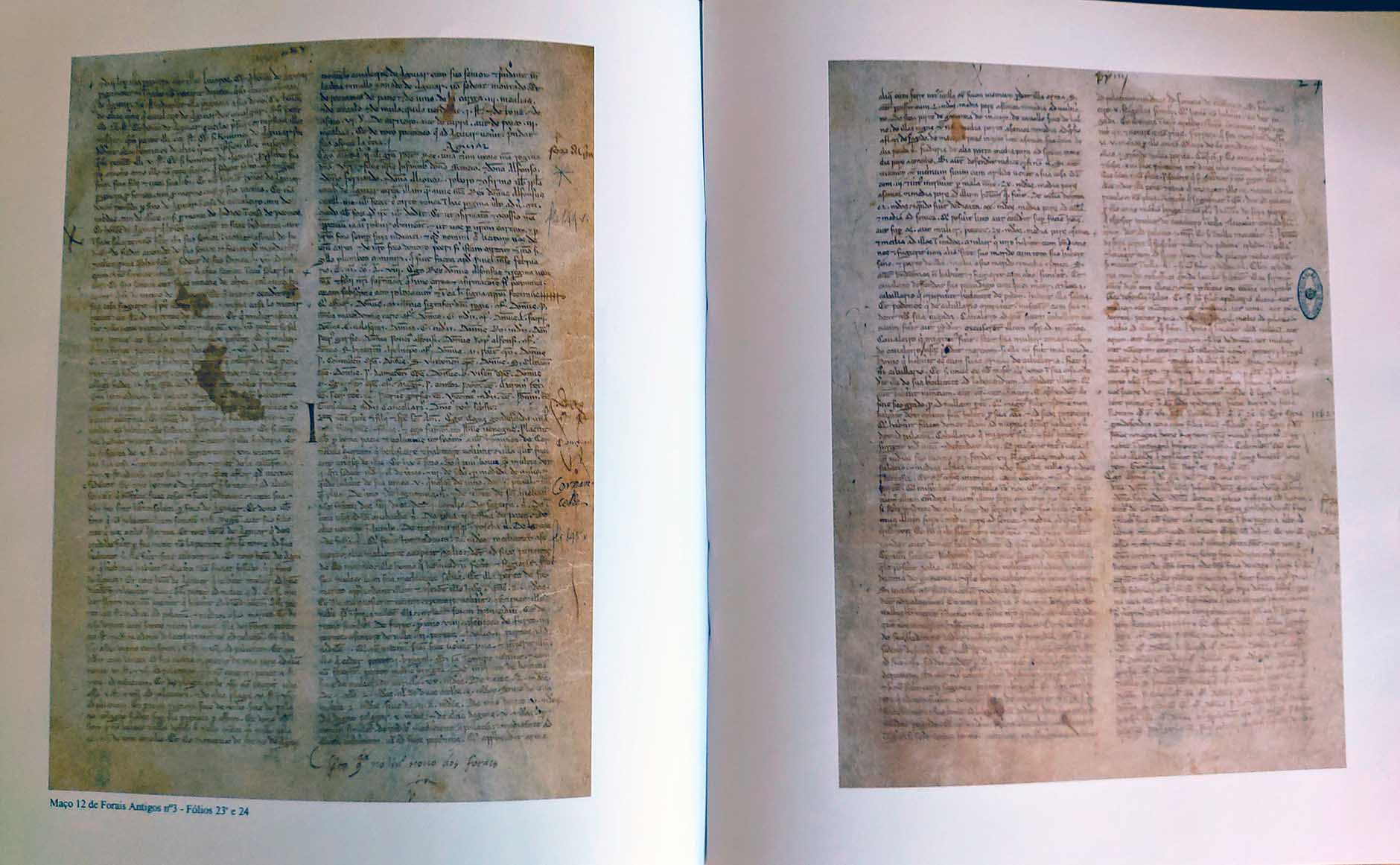Dos regulamentos do trabalho indígena à sua ineficácia prática. “Natureza Morta”- o caso angolano
O relatório, que a 22 de Janeiro de 1947 Henrique Galvão apresentava na Assembleia Nacional, era muito crítico para modelo colonial português. No final desse ano, José Augusto Franca dava por terminado o seu romance de estreia “Natureza Morta”, escrito entre Setembro e Novembro e publicado dois anos mais tarde e tem como cenário Angola, numa fazenda de produção de cana-de-açúcar, onde os atropelos aos ténues direitos do trabalhador contratado, de tal forma evidentes e compungentes, provocam um verdadeiro murro do estômago e um libelo acusatório às práticas coloniais.

Resumo
A 6 de Setembro de 1944, Marcelo Caetano tomava posse como Ministro das Colónias. Ao aperceber-se das inúmeras queixas apresentadas contra os serviços que tutelava, sobretudo os “organismos de coordenação económica imperial”, como as Juntas do Café, dos Cereais e do Algodão, decidiu instaurar-lhes um inquérito, designando para tal o então inspector Superior da Administração Colonial, Henrique Galvão. Marcelo justificava a sua decisão pela necessidade de serem tomadas as previdências necessárias para poderem ser travados os abusos que tinham aumentado significativamente durante a guerra.
O relatório, que a 22 de Janeiro de 1947 Henrique Galvão apresentava na Assembleia Nacional, era muito crítico para modelo colonial português. No final desse ano, José Augusto Franca dava por terminado o seu romance de estreia “Natureza Morta”, escrito entre Setembro e Novembro e publicado dois anos mais tarde e tem como cenário Angola, numa fazenda de produção de cana-de-açúcar, onde os atropelos aos ténues direitos do trabalhador contratado, de tal forma evidentes e compungentes, provocam um verdadeiro murro do estômago e um libelo acusatório às práticas coloniais.
Com a abolição da escravatura, a regulação do trabalho indígena passou a fazer parte das inquietações do legislador. O regime monárquico fez publicar a 9 de Novembro de 1899, um regulamento do trabalho indígena. A República não lhe ficou atrás e, a 27 de Maio de 1911, aprovava um novo regulamento do trabalho indígena. A Ditadura, saída do golpe militar de 28 de Maio de 1926, fará aprovar, a 6 de Dezembro de 1928, o “Código do trabalho dos indígenas nas colónias portuguesas de África”. Porém, em finais dos anos quarenta, nas Nações Unidas, a questão do trabalho indígena nas colónias portuguesas saltava para a ordem do dia, dando origem a um inquérito aprovado pela resolução do Conselho Económico e Social de 7 de Março de 1949. As denúncias das práticas coloniais portuguesas, nomeadamente das condições de trabalho, acentuaram-se na década de cinquenta, potencializando a irrupção dos movimentos nacionalistas.
Mas, que melhor guião para a vida do que a literatura? Assim, para aquilatarmos do imenso hiato entre os textos legislativos e a prática colonialista, tomaremos como roteiro a obra de José Augusto França, “Natureza Morta”, que tem como cenário Angola e uma fazenda de produção de cana-de-açúcar, segundo a “estória” trágica de Macusso, um trabalhador contratado.
Os regulamentos do trabalho Indígena
A 6 de Setembro de 1944, Marcelo Caetano tomava posse como Ministro das Colónias. Ao aperceber-se das inúmeras queixas apresentadas contra os serviços que tutelava, decidiu instaurar um inquérito, designando para tal Henrique Galvão, ao tempo inspetor Superior da Administração Colonial.
O «esforço de guerra» levara, por toda a África a afrouxar a vigilância na defesa dos trabalhadores indígenas contra práticas abusivas de trabalho forçado e as colónias portuguesas não tinham sido exceção à regra. A guerra ia no fim e era preciso começar a travar energicamente tais abusos para impedir que se consolidassem. Encarreguei, pois, Henrique Galvão de, em Angola e em Moçambique, inspecionar os serviços locais dos organismos de coordenação económica que inquiria em Lisboa e, ao mesmo tempo, em missão especial, apurar discretamente o grau de inobservância da legislação do trabalho indígena, preparando um relatório a mim destinado que permitisse ao Governo adotar as providências necessárias para o regresso à normalidade[1].
E a 22 de Janeiro de 1947, Henrique Galvão apresentava, na Assembleia Nacional, um relatório secreto muito acintoso para a administração colonial. No final daquele ano, José-Augusto França dava por terminado o seu romance de estreia, Natureza morta[2], escrito entre Setembro e Novembro, publicado dois anos mais tarde. Tendo como cenário Angola e a produção de cana-de-açúcar na zona de Cassala, Quanza Norte, pondo a nu os atropelos aos ténues direitos do trabalhador contratado, esta obra apresenta-se como um paradigma da crítica ao modelo colonial português. Em 1949, Castro Soromenho, no romance Terra Morta, fazia também um ataque cerrado à disrupção entre a legislação publicada sobre o trabalho indígena e a prática levada a cabo pelos agentes coloniais. Henrique Galvão só oficializava o que a ficção ia destapando
Com o fim oficial da escravatura e porque fosse necessário produzir legislação que regulamentasse um novo tipo de vínculo laboral entre “patrão” e “indígena” – o contrato –, a 29 de Abril de 1875 era publicada a primeira regulamentação do trabalho por contrato, “estabelecendo as condições concedidas aos chamados libertos e as condições de tutela a que eram sujeitos”[3]. Um novo regulamento, este de 28 de Novembro de 1878, se bem que, teoricamente, concedesse ao africano liberdade na escolha do trabalho e do patrão, ao considerá-lo “menor” e sujeito à tutela, conceito imutável até ao eclodir da Guerra Colonial, entregava a outro quer a celebração do contrato quer a fiscalização do seu cumprimento. Surgia, assim, o papel do curador, o funcionário colonial a quem “foram dadas largas atribuições, concedido direito excecional de se corresponder diretamente com o Ministério e com os governadores das outras colónias e a ninguém era lícito estorvá-lo no exercício das suas atribuições, devendo todas as autoridades prestar-lhe auxílio”[4]. O regulamento de 1878 estabelecia ainda que o período de contrato de “prestação de serviços” não podia exceder 5 anos, exceção feita aos aprendizes, com um período dilatado até 10 anos. O diploma de 27 de Maio de 1892 alterava a duração do contrato para 2 anos, proibindo em definitivo a utilização de correntes, algemas, grilhetas ou gargalheiras, instrumentos de aprisionamento ligados a práticas escravocratas. A legislação monárquica seria sintetizada no decreto de 9 de Novembro de 1899, o Regulamento do Trabalho Indígena, um diploma com 65 artigos, onde se torna muito claro, logo no artigo nº 1, a obrigação que o indígena tinha em trabalhar.
Artigo 1. Todos os indígenas das províncias ultramarinas portuguesas são sujeitos à obrigação moral e legal, de procurar adquirir pelo trabalho os meios que lhes faltem, de subsistir e de melhorar a própria condição social. Têm plena liberdade para escolher o modo de cumprir essa obrigação; mas, se a não cumprem de modo algum, a autoridade pública pode impor-lhes o seu cumprimento[5].
O regulamento de 1899, que denominava o trabalhador indígena como “serviçal”, não só era muito claro na obrigação que este tinha em procurar trabalho, como mantinha a figura do curador. Por seu lado, aos patrões eram atribuídos deveres: socorrer e mandar tratar os serviçais em caso de doença; prover à sua subsistência em caso de crise alimentar; alojá-los condignamente e alimentá-los, se tal estivesse estipulado no contrato; abster-se de os fazer comprar artigos que não queiram; não lhes reter as “soldadas”; cumprir os regulamentos gerais[6]. O poder do patronato estava fixado no artigo 19º: prisão dos serviçais em caso de delito, devendo apresenta-los às autoridades administrativas; opor-se a qualquer tentativa de evasão, apresentando ao curador os evadidos capturados que se recusassem ao trabalho; vigiar todo o serviçal que tentasse ou manifestasse interesse na evasão; corrigir as faltas cometidas, como o alcoolismo, os vícios e os maus costumes. Porém a correção deveria ser feita com algum humanismo, sendo proibidos (§1º) os maus tratos, a detenção em locais insalubres, o uso de grilhetas e gargalheiras, a privação de alimentos e multas pecuniárias com desconto nos salários[7].
A recusa ao trabalho conduzia ao “trabalho compelido” sanção da responsabilidade das autoridades administrativas, com o artigo 32º a determinar os meios compulsórios de que dispunham: explicar e admoestar o serviçal pelo incumprimento da obrigação contratualizada; enviá-lo para onde lhe fora oferecido trabalho e apresentá-lo aos patrões e funcionários de estado que o empregavam[8]. A reincidência arrastava para um outro patamar, o do “trabalho correcional” que, de acordo com o artigo 33º, destinava-se a quem desobedecesse à intimação e resistisse à ação compulsória, aos evadidos e ainda a quem pertinazmente se recusasse a trabalhar[9].
O artigo 22º do regulamento de 1899, ao focar-se na questão do passaporte do trabalhador contratado, esboçava o princípio da “caderneta do indígena”, muito bem tipificada no ordenamento de 1928, e contra a qual se insurgiram muitos africanos ao longo do tempo.
A República não interrompeu o projeto imperial monárquico, antes pelo contrário, aprofundou-o. A 27 de Maio de 1911 era publicado o Regulamento Geral do Trabalho dos Indígenas nas Colónias Portuguesas. Com 65 artigos e em tudo semelhante ao regulamento de 1899, mais parecia uma adaptação às novas instituições saídas de 5 de Outubro de 1910. Os governos republicanos procuraram equilibrar a necessidade da manutenção da liberdade de escolha por parte do trabalhador africano com a mentalidade da época que, ao considerar o negro preguiçoso e sem iniciativa para, por si só, procurar trabalho, defendia a contratação “compulsiva” de mão-de-obra necessária ao desenvolvimento económico colonial. A 14 de Outubro de 1914 era publicado o Decreto 951, que dava forma a um novo Regulamento do Indígena, um extenso diploma com 264 artigos, precedidos duma reflexão sobre a organização do trabalho. O legislador assacava grande parte das dificuldades no recrutamento de mão-de-obra masculina à fertilidade dos solos africanos e ao trabalho agrícola da responsabilidade das mulheres que assim remetiam os homens para a “caça e a guerra”. O fim da escravatura, ao recolocar a questão da mão-de-obra, contrapunha ao trabalho escravo o trabalho livre, mas obrigatoriamente contratado, a fórmula encontrada pelas potências coloniais para retirar “o indígena do atraso e da barbárie”. Dito por outras palavras, tornara-se crucial a monetarização do trabalho. O documento criticava também o desempenho da administração colonial, acusando-a do incumprimento da legislação em vigor, da falta de atenção no recrutamento de mão-de-obra, de faltas grosseiras por parte dos curadores, exemplificando com o curador de Angola que não atendeu à cláusula da liberdade de contrato e não providenciou o repatriamento dos trabalhadores findo o contrato de trabalho, situação recorrente, que se manteve ao longo do tempo, relativa aos contratados para as roças de S. Tomé e Príncipe. O Ministério das Colónias, partindo então da análise da legislação anterior cruzada com as reclamações que chegavam ao governo, “procurou manter as disposições legais que se achavam em vigor (…) com pequenas alterações de detalhe, mas sem alterações de princípio, pois que foram respeitadas por completo os estabelecidos no decreto de 27 de Maio de 1911, promulgado pelo Governo Provisório”[10]. Sobre a obrigatoriedade do trabalho livremente contratualizado, o legislador esclarecia:
O indígena que não trabalhe voluntariamente é chamado perante a autoridade que procura convencê-lo a trabalhar, oferecendo-lhe trabalho que esteja em suas forças executar. Se o indígena se recusa a aceitá-lo, pode ser mandado apresentar aos patrões que careçam de serviçais: é o trabalho compelido (…). Se o indígena, apesar de ter sido apresentado ao patrão e ter ouvido as condições em que lhe é oferecido, continuar a recusar-se a aceitá-lo, voltando à ociosidade, cai desde logo na vadiagem e pode ser portanto considerado vadio e ser julgado e condenado como tal, podendo ser obrigado ao trabalho: é o trabalho correcional[11].
Os direitos e deveres dos trabalhadores e dos patrões consignados no Decreto 951 não se afastavam do que fora preconizado no Regulamento de 1899. Porém, neste diploma foram introduzidas normas muito precisas quanto a vencimentos, salários, alimentação, vestuário, habitação e tratamento médico dos contratados[12]. A reorganização das curadorias e as funções dos curadores, como tutores dos indígenas, assumem aqui o papel de destaque, o mesmo acontecendo com as sociedades de recrutamento de mão-de-obra indígena a quem é dedicado o capítulo V. Contudo, não foi por falta de legislação que uma certa promiscuidade entre agentes recrutadores, patrões e autoridades administrativas foi eliminada, saltando diretamente para a ficção. A obra de Castro Soromenho assim o pode comprovar.
Em Angola, Norton de Matos, o primeiro governador-geral depois da instauração da República, em nada enjeitando o Regulamento de 1899 e ciente de que a aculturação dos “indígenas” passava pela progressiva monetarização do trabalho, fez publicar a Portaria nº 1092, de 21 de Dezembro de 1912, que garantia a renovação dos contratos, horário de trabalho, salário mínimo, descanso mensal e pagamento em numerário. Por seu turno, a cultura intensiva do algodão, fundamental ao desenvolvimento da indústria têxtil metropolitana, originou a produção de legislação que, alegando a inércia natural do africano, permitia à administração a angariação e o fornecimento de trabalhadores. Apesar de considerar desumano o trabalho compelido, Norton de Matos não se acanhou em utilizá-lo nas obras públicas, servindo-se de mão-de-obra forçada e gratuita, muitas vezes de mulheres, crianças e velhos.
A queda do regime republicano não pôs em causa a organização do trabalho indígena. O Estatuto dos Indígenas, aprovado pelo Decreto nº 12 533, de 23 de Outubro de 1926[13], continuava a adotar um critério etno-cultural colonialista. Na sequência de legislação anterior, visava “assegurar não só os direitos naturais e incondicionais dos indígenas cuja tutela nos está confiada (…), mas também o cumprimento progressivo dos seus deveres morais e legais do trabalho e de aperfeiçoamento”[14]. Dois anos depois, a 6 de Dezembro de 1928 era publicado o Decreto 16 199, Código do Indígena, que regulamentava o «trabalho dos indígenas nas colónias portuguesas». O novo diploma, muito mais extenso do que qualquer um dos anteriores, com 428 artigos, procurando com a minúcia normativa nada deixar a descoberto, estribava-se na tradição colonial, na adoção dos princípios consagrados internacionalmente e expressos nas leis nacionais e no cuidado com as populações africanas. Continuando a ancorar o trabalho por contrato na liberdade individual, na garantia de um salário justo, na assistência, na remuneração aos trabalhadores das obras públicas, vedava o fornecimento de mão-de-obra a particulares. Porém, o trabalho por contrato, oficialmente entendido como voluntário, mais não era do que um trabalho compulsivo. Os contratados eram recrutados por agentes do governo, pagos por cabeça e distribuídos onde necessário fosse: agricultura, pescas, sector mineiro ou obras públicas. Se os contratados tinham direito à alimentação e à assistência, estas eram porém muito deficitárias. O fomento das culturas obrigatórias, como o algodão, o café ou a cana-de-açúcar, reduziram os camponeses, para utilizar a expressão Henrique Galvão, a “servos da gleba” que, suportando todos os riscos das plantações, viviam em situação profundamente desumana.
Em 1928 era definitivamente formalizada a “caderneta do indígena” considerada por muitos, nomeadamente por aqueles que, no pós 2ª Guerra Mundial, se vão opor ao regime colonial português, como um ferrete, uma espécie de gargalheira escravocrata, exercendo um controlo férreo sobre o trabalhador. Servindo ao mesmo tempo de registo fiscal, boletim de saúde e livrete familiar, continha uma multiplicidade de informações sobre o trabalhador: profissão, emprego habitual, salário, nome do empregador, local de trabalho, data, duração e términos do contrato e cumprimento do mesmo. O capítulo IV, do Decreto 16 199 é-lhe todo ele dedicado e o artigo 90º especifica o seu conteúdo:
Artigo 90º
Seja qual for o modelo adoptado, deverá conter pelo menos o seguinte:
1º Colónia, distrito, concelho ou circunscrição onde foi passada e registada e o número do respectivo registo.
2º Nome e naturalidade do possuidor, a sua idade provável e estado na data em que foi passada.
3º Localidade, posto civil e circunscrição ou concelho da sua residência habitual.
4º Nomes dos pais e sua residência, se forem conhecidos.
5º Nome e idade provável da mulher, se for casado ainda que pelos costumes gentílicos e nome e idade provável dos filhos se os tiver.
6º Impressão digital do polegar esquerdo ou de ambos os polegares do possuidor.
7º Profissão ou trabalho em que habitualmente se emprega (…).
8º Nome do patrão e local de serviço, se estiver trabalhando a salário, e data, tempo e salário do respetivo contrato.
9ºAnotação da data em que deixou o serviço para que esteve contratado e modo como cumpriu as suas obrigações de trabalhador indígena.
§único Além destes registos podem declarar-se obrigatórios os que respeitem ao pagamento do imposto indígena, vacinações e outros tratamentos preventivos de doenças infecto contagiosas, terrenos de que é proprietário (…) gado que possui e respetivas marcas (…)[15].
Voltando ao Estatuto dos Indígenas e ao Código de Trabalho, em vigor até 1962, quando, na sequência do eclodir da Guerra em Angola, o ministro do Ultramar, Adriano Moreira, os revogou, o trabalhador africano tinha por obrigação trabalhar como contraponto ao que lhe era oferecido pelo governo colonial: educação, tutela administrativa, obra missionária e campanhas sanitárias. Ora, esta “obrigatoriedade” levou a que todo o trabalho indígena fosse designado pelos seus delatores, nomeadamente os independentistas, como trabalho forçado. O trabalhador contratado era obrigado ao desempenho consciencioso das suas funções, à permanência no local de trabalho e a indemnizar o empregador por possíveis danos.
Se, legalmente, estavam definidos os direitos e deveres dos trabalhadores e dos empregadores, a necessidade de mão-de-obra intensiva conduziu a transgressões no recrutamento, com os trabalhadores obrigados a fazerem-se contratar através de ameaças verbais, violência e raids noturnos sobre as suas sanzalas ou falsas promessas, com implicação direta de muitos sobas. A este constrangimento juntava-se a arregimentação de mulheres, velhos e crianças para o trabalho compelido. Enquanto para o indígena o trabalho por contrato se transfigurou em autêntico trabalho forçado, o empregador ia-se libertando do cumprimento das suas obrigações legais. O contrato podia prolongar-se para lá do máximo estipulado de dois anos, o horário era excessivo e os salários baixos. Eram majoradas as deduções previstas quanto à alimentação, vestuário e alojamento, tornando-se obrigatória a aquisição de bens de primeira necessidade na cantina da empresa. A prática de maus tratos era uma constante, notoriamente os castigos corporais, como descreve José-Augusto França em Natureza Morta.
Henrique Galvão[16], africanista convicto e deputado por Angola[17], não ousou de brandas palavras no relatório que apresentou à Assembleia Nacional. Considerava que a evidente decadência física das populações indígenas de Angola e Moçambique, causada por falta de assistência médica e de uma alimentação deficiente, malgrado as disposições legislativas de 1914 e 1928, tinha raízes na “ação política e administrativa dos últimos 60 anos”[18], a que não eram alheias as guerras de ocupação, com autênticas “operações de extermínio”. Apesar do consulado de Norton de Matos e a publicação do Estatuto do Indígena ter aparentemente minorado a frágil situação das populações, as suas carências e a emigração para outras colónias, algumas delas estrangeiras, criavam um acutilante problema de mão-de-obra. Escrevia Galvão: “falta-nos, em Angola, a mão-de-obra necessária para manter o nível de produção e o desenvolvimento em condições humanas de utilização do trabalhador”[19], a que não eram alheias as práticas de recrutamento dos contratados, em clara violação dos requisitos legais. O capítulo III do Decreto 16 199 é todo ele dedicado ao recrutamento, definindo quem pode recrutar, o papel dos agentes de recrutamento, os seus direitos, deveres e inibições. Ora, o artigo 38º, ponto 1, proíbe expressamente o recrutamento de indígenas para serviços particulares, o que incisivamente foi contrariado no relatório Galvão
O mais grave aspecto reside certamente na posição tomada pelo Estado, através dos seus agentes, no recrutamento de mão-de-obra para particulares, pois (…) o Estado se faz, franca e deliberadamente, recrutador e distribuidor de mão-de-obra a ponto de os colonos se dirigirem à Repartição dos Negócios dos Indígenas pedindo por escrito, com impressionante naturalidade, o “fornecimento de trabalhadores”. Este termo “fornecer” emprega-se já com o mesmo desembaraço para gente e mercadorias (.) [O Estado] recruta para si como recruta para os colonos, mas como para satisfazer as necessidades destes, muitas vezes lhe faltam braços, recorre frequentemente a mulheres e aos incapazes. E como também frequentemente lhe faltam verbas, obriga os pretos a trabalhar sem salário nem alimentação, em estradas, granjas administrativas, etc. (…) Quando o Estado paga, nem sempre paga pontualmente (…). Os indígenas entre os dois males (…) preferem o segundo [contrato para particulares] (…) Os patrões servem-se de recrutadores, que protegidos ou auxiliados pelas autoridades, conseguem mais ou menos dispendiosamente e à razão de um tanto por cabeça, o número de trabalhadores de que precisam. (…) Chama-se a isto contratar trabalhadores e estes são conhecidos oficialmente como voluntários (…)”[20].
O Inspetor Superior da Administração Colonial assumia uma posição muito crítica ao funcionamento da administração colonial, de tal forma acutilante, que não se coibiu em confrontar as condições laborais do pós Guerra com as da escravatura. Dizia ele: “Na vigência desta, o preto comprado (…) constituía um bem que o seu “dono” tinha interesse em manter são e escorreito (…). Agora o preto não é comprado, é simplesmente alugado ao Estado, embora leve o rótulo de homem livre”[21].
Natureza Morta
Com pouco mais de vinte anos, José-Augusto França teve a sua experiência africana. Por contingências familiares, a morte do pai, passou o último ano da guerra -1945 – em Angola, trabalhando como adjunto do director de uma companhia colonial. Numa entrevista que deu ao jornal Sol, a 31 de Maio de 2016, avaliava a sua permanência em território angolano:
Não me dei bem no meio daquele colonialismo torpe e trouxe de lá um romance, Natureza Morta, que foi retirado do mercado e valeu-me ter sido arredado da empresa (…). Andei pelo interior e vi como se comprava a mão-de-obra. Os negros eram pagos e, conforme o ‘contrato’ obrigatório dos indígenas, deixavam o dinheiro todo para comprarem óculos escuros e outras coisas na loja da fazenda. Era uma forma de escravatura e uma vigarice. Depois vivi na fazenda açucareira do Bom Jesus e presenciei a miséria de toda aquela gente, que andava de serapilheira enrolada aos rins, a trabalhar de sol a sol, a fazer as plantações (…)[22].
Natureza Morta, livro de estreia de França, desmistifica o “colonialismo suave, humanista, cristão e civilizador” tão ao gosto da propaganda do Estado Novo. Ao fazer o retrato cru das relações entre colonos e colonizados, funcionários coloniais e trabalhadores contratados, o autor traz à superfície o abismo entre a legislação – Código do Indígena – e a prática quotidiana, muito bem retratada na narrativa particular de Macuso, o trabalhador que se enforca no armazém da Companhia que o contratara.
O código do Indígena de 1928 era muito claro na questão do transporte dos contratados do território de recrutamento ao local do cumprimento do contrato, reservando o Capítulo VII para determinar quais as condições a observar. O artigo 171º, $ 1º, refere: “é proibido o transporte em vagão descoberto ou de mercadorias”[24]. A Macuso aconteceu precisamente o contrário: “na estação [de Malange] um branco da Companhia entregara-lhes os panos que lhes tinham prometido no Dampo e, sem lhes dar tempo para os mirar à sua vontade, logo os empilhara num vagão descoberto que ficara horas à espera da formação do comboio”[25].
A secção I, do capítulo VIII era toda ela dedicada à alimentação. O artigo 232º refere: “a alimentação será constituída por géneros de boa qualidade, e quanto possível, daqueles que os indígenas estão habituados a comer na sua terra (…) ”[26], o que não aconteceu com Macuso e seus companheiros, aquando da espera em Malange. “Chegaram a Malange cheios de fome, deram-lhes peixe seco a que não estavam habituados e muitos não foram capazes de comer”[27], nem tão pouco na fazenda São Pedro, com a fuba estragada: “era fuba o que levava naquela lata, e ia mostrá-la ao branco do governo, em Cassala. Era fuba podre (…) ”[28]. Ora, as rações distribuídas aos contratados estavam bem tipificadas, quer no decreto de 1914, quer no Código de 1928. Neste último, o artigo 233º era bem claro, ao indicar a quantidade de alimentos a consumir por dia: 800g a 100g de vegetais – farinha de milho ou mandioca[29], feijão e arroz – e 250g de carne ou peixe[30].
A questão do alojamento faz parte da secção II do capítulo VIII. No artigo 237º, são estabelecidas as normas da construção das habitações a alojar os contratados, sendo que cada uma não pode alojar mais de seis trabalhadores por compartimento[31]. Por seu turno, o artigo 239º refere que, junto aos alojamentos deveriam ser construídas as cozinhas e a 100 metros, as sentinas[32]. Seriam estas as condições de alojamento de Macuso na fazenda S. Pedro?
O acampamento com casas de adobe e de tijolo e outras de pau-a-pique, todas cobertas de capim, alargava-se num terreiro enorme, numa medonha simetria, disposto em fileiras onde cada habitação para vinte homens se separava da vizinha em intervalos regulares de dois metros. No meio do terreno (…) isolava-se um depósito de água e, junto a ele, um pluviómetro fazia uma sombra descarnada (…). Todos os homens partiam de madrugada para os talhões, com as catanas na mão, guiados pelos capatazes (…). Só voltavam perto da noite, aos bandos, sujos e esfomeados, para se irem lavar ao rio e comer a sua fuba (…) ”[33].
Macuso e os seus companheiros partiam de madrugada para as plantações de cana e voltavam ao acampamento perto da noite. Se o horário de trabalho aparece definido no Código do Indígena – 9 horas diárias, com um dia de descanso por semana[34], não nos parece que a legislação permitisse os castigos corporais, como punição por qualquer infração cometida pelo contratado. O decreto de 9 de Novembro de 1899, no artigo 19º, que institui o poder dos “patrões”, ao permitir-lhes uma “correção moderada das faltas cometidas”, proíbe-lhes os “maus tratos”, bem como a utilização de grilhetas e gargalheiras[35], mais de acordo com práticas escravocratas. Se o decreto de 27 de Maio de 1911, no seu artigo 14º, proibia o uso de castigos corporais[36], os dois decretos subsequentes não fazem alusão explícita ao seu uso, pressupondo-se até pela leitura das introduções respetivas, que, na ideia do legislador, os castigos corporais pertencessem ao passado escravocrata. Porém, Macuso sentiu no corpo trilhar o chicote, o peso da palmatória e a força do soco do administrador da circunscrição de Cassala que, por inerência de funções, era também o agente do curador.
O Decreto 16199 reserva todo o capítulo II às funções dos curadores, responsáveis pela tutela dos trabalhadores indígenas que, em 1928, continuavam a ter um estatuto de menoridade. O artigo 9º indica as autoridades coloniais que podem ser “agentes do curador” e entre elas estão os administradores de concelho e das circunscrições administrativas. Segundo o artigo 10º, os curadores e seus agentes têm por obrigação proteger, tutelar e fiscalizar os contratos de todos trabalhadores indígenas. Muito mais preciso, o artigo 12º, define as competências daqueles funcionários coloniais:
3º – Vigiar (…) que os contratos sejam fielmente cumpridos pelos patrões e trabalhadores indígenas, podendo proceder (…) às investigações que forem necessárias.
4º – Receber reclamações e queixas (…).
6º -Praticar os actos necessários para fazer executar todas as disposições de protecção aos trabalhadores indígenas contratados[37].
Ao tomar conhecimento da queixa de Macuso e depois de ter observado a fuba estragada, o administrador fez o que lhe cumpria: investigou o caso. Dirigiu-se à fazenda São Pedro. Das diligências efetuadas, foram perguntados alguns funcionários e feita uma vistoria rápida a um armazém onde se guardavam alguns sacos de fuba, pôde concluir que o contratado era um refinado mentiroso. “Os malandros dos negros procuravam por todos os meios dificultar o trabalho. Mas aquele seria severamente castigado”[38]. Para o administrador, que equiparava os negros a “animais ferozes”, só havia uma forma de lidar com eles: “numa mão o comer, noutra o chicote”[39]. E foi com força que castigou Macuso. “Atirou o punho fechado para a frente, apanhou-o em cheio na boca”[40], chamando-o mentiroso e querendo saber onde tinha arranjado a fuba. O temor de Macuso era tanto que urinou no chão de cimento, provocando uma ira maior ao administrador.
Pegou numa palmatória enorme (…) e deu-a ao cipaio (…). Trinta em cada mão [ordenou]. O negro levantou então a palmatória e despenhou-a com estrondo na mão espalmada do outro negro. O gabinete ficou cheio com o uivo de dor. A palmatória continuava a subir e a tombar com fragor e a respiração cansada do cipaio acompanhava o zunido do ar (…). Apanhara já uma pancada nos dedos e o sangue espirrava das unhas[41].
Terminado o castigo, Macuso foi reenviado à fazenda, onde mais punição o esperava. Porém, o Código do Indígena de 1928 era muito claro quanto aos direitos e deveres dos patrões[42]. O artigo 114º, todo ele dedicado aos deveres, refere que o patrão deve cumprir escrupulosamente as condições do contrato, para além de ser obrigado a facultar ao trabalhador uma alimentação saudável[43]. Dois artigos depois, no 116º, declaravam-se nulos os contratos que autorizasse os castigos corporais[44], o que implicava a proibição de uso de meios corretivos, como a palmatória ou o chicote. Pois, na narrativa de Macuso passou-se precisamente o contrário. O chicote e a palmatória não pertenciam ao passado escravocrata. Bem pelo contrário, continuavam como instrumentos de poder. Perante Macuso algemado, Antónia, uma mulher branca casada com um dos funcionários da fazenda S. Pedro, produzia estas frases lapidares: “Levou uma lata dela, de fuba muito negra, que foi arranjar ao morro. São uns animais… Que eu sou daquelas pessoas que acham que se deve tratar bem os negros, mas sempre com muito cuidado com eles, nunca confiar. Ter sempre a palmatória à mão”[45]. Levado para o acampamento, foi aí que, perante uma multidão de contratados, Macuso sofreu mais uma punição. Mas, deixemos que seja o autor a narrar as sevícias sofridas pelo negro.
O acampamento estava estranhamente silencioso. Era dia de pagamento de férias (…).
Habitualmente, os negros faziam uma algazarra tremenda e só se calavam medrosamente quando se encaminhavam, formados em fila, como um rebanho, para receber os angolares. Naquela ocasião, porém, havia um silêncio enorme, que ganhava peso no ar. A notícia tinha também corrido entre o pessoal, sabia que Macuso voltara de Cassala e trazia as mãos arrebentadas pelas palmatoadas e anunciava-se que o patrão lhe ia bater mais, agora, para o castigar.
Eram quase setecentos homens. Estavam de pé, deitados ou acocorados diante das casas que se alinhavam no terreiro. Quando viram aproximar-se o grupo de brancos, com o negro preso entre os dois cipaios, todos, instintivamente, se puseram de pé, mudos e especados, como à beira de uma catástrofe (…).
Macuso ficou no meio deles, curvado e miserável com as mãos pendentes, mais empoladas agora (…).
– Qual palmatória – gritou o Gomes [o gerente da fazenda] – Cavalo marinho é que é! Com cavalo marinho (…).
Um dos cipaios (…) pegou no cavalo marinho (…).
Então puxaram Macuso bem para o meio de forma que fosse visto por todo o pessoal, e a primeira pancada zumbiu no ar parado e caiu sobre as suas costas. Ele tentou fugir com um salto maquinal, em que as pernas já não lhe obedeceram, mas os outros cipaios empurraram-no com as espingardas e Macuso voltou a receber outra verdascada que já descia. (…) O cavalo marinho tombava de novo, outra vez ainda, sobre os ombros, sobre o lombo de Macuso até que ele caiu inanimado, como um fio de sangue que, na boca, se misturava à ferida dos lábios, reaberta já.
O cipaio deixou então cair o braço ao longo do corpo, estafado, e ficou a olhar o chefe (…). Tinham encostado Macuso à coluna do pluviómetro e ele continuava inerte, com os olhos fechados e o fio de baba sangrenta pendurado do lábio ferido (…) Gomes mandou que dois homens o levassem para o armazém do acampamento (…). [Tocaram] num braço de Macuso que teve um sobressalto e abriu os olhos aterrados, num desespero que já nada tinha de humano”[46].
A punição não se quedou em Macuso. O capataz e os seus companheiros de habitação, considerados coniventes no crime “de denúncia da fuba estragada”, sentiram o peso da palmatória: “O capataz negro apanhou uma dúzia de palmatoadas [,] a palmatória estalou dezenas de vezes [e] os cipaios substituíam-se consoante as ordens acenadas”[47]. Macuso não resistindo ao vexame do cavalo-marinho, da palmatória, do murro, da desconfiança do branco, da injustiça, enforcou-se na trave do armazém para onde tinha sido arremessado como se de um saco de fuba se tratasse. Não voltou à sua sanzala. Apodreceu na fazenda de cana, na Cassala, lá para o Quanza Norte.
Cruzando a legislação produzida entre 1875 e 1928 com o relatório oficial do Inspetor Superior da Administração Colonial e a ficção de Natureza Morta apercebemos-mos do fosso entre os normativos legais e as práticas quotidianas. Em meio século, o dia a dia do contratado, considerado como menor a quem era necessário obrigar a trabalhar, educar e punir, pouco se afastava do tempo das grilhetas e das gargalheiras. Não por acaso, a partir da década de cinquenta e até à eclosão da Guerra Colonial, as condições do trabalho dos contratados estiveram sempre na primeira linha das denúncias contra o colonialismo português. E também não foi por acaso que, logo em 1961, o Ministro do Ultramar de então, Adriano Nogueira, revogou quer o Estatuto do Indígena, quer o Código de Trabalho
[1] Marcelo Caetano, As minhas memórias de Salazar, Lisboa, Editorial Verbo. 2000. p 323.
[2] “Natureza Morta (permito-me informar ou lembrar) conta de uma lisboeta que casa por procuração com um gerente de fazenda africana e vai viver o pior, num destino cruzado com o dum negro batido e suicidado por castigo de se ter queixado de fuba podre dada em alimentação. A fazenda, conheci-a bem (fiz mesmo o seu levantamento cadastral), a sua gente também, a protagonista imaginei-a; de um caso de fuba podre soube (…) ”.José-Augusto França, “A propósito de colónias”, Maria João Castro (coord), Pensamentos e escritos (Pós Coloniais), Lisboa, editora ArTravel, 2016, p 36.
[3]Decreto nº 951, Ministério das Colónias, Diário do Governo, I série, número 187, 14/10/1914, p 949.
[4]Decreto nº 951, p 949.
[5]Decreto de 9 de Novembro de 1899, Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Diário do Governo, número 262, 09/11/1899, p 647.
[6]Cf. Decreto de 9 de Novembro de 1899, artigo 17º, § único, p 649.
[7]Cf. Decreto de 9 de Novembro de 1899, artigo 18º, p 649.
[8]Cf. Decreto de 9 de Novembro de 1899, artigo 32º, p 651.
[9]Cf. Decreto de 9 de Novembro de 1899, artigo 33º, p 651.
[10] Regulamento do Indígena, Decreto nº 951, de 14 de Outubro de 1914, Ministério das Colónias, Diário do Governo nº 187, 1ª série, 14 de Outubro de 1914, p 95.
[11]Regulamento do Indígena, Decreto nº 951, p 953.
[12] Regulamento do Indígena, Decreto nº 951, Capítulo VII, p 969-971.
[13]Inicialmente aplicado a Angola e Moçambique, torna-se extensivo à Guiné pelo Decreto nº 13689, de 30 de Março de 1927.
[14]Apud, “Estatuto dos Indígenas” , Fernando Rosas e J.M. Brandão de Brito, Dicionário de História do Estado Novo Lisboa, Círculo de Leitores, 1996, p 320.
[15]Código do Indígena, Decreto nº 16 199, Ministério das Colónias, Diário do Governo, 1ª série, número 281, 06/12/1928, p 2453.
[16]Em 1929 e durante uns meses, Henrique Galvão foi Governador do distrito da Huíla, em Angola. Por incompatibilidade com o governador geral de então, Filomeno da Câmara, teve de regressar a Portugal. A sua estadia em Angola, deu origem ao Relatório da Huíla.
[17]Henrique Galvão foi deputado por Angola à Assembleia Nacional (1946-1949).
[18]Relatório de Henrique Galvão, ATD, Arquivo de Lúcio Lara, ano 1947, 22/1/1947, doc.8.
[19]Relatório de Henrique Galvão, ATD, doc.8.
[20]Relatório de Henrique Galvão, ATD, doc.8.
[21]Relatório de Henrique Galvão, ATD, doc.8.
[22]José-Augusto França: “a minha ligação à arte é quase respiratória”, Jornal Sol, 31-5-2016, https://sol.sapo.pt/artigo/511945/jose-augusto-franca-a-minha-ligacao-a-arte-e-quase [em linha], consultado a 14-11-2019.
[23]José-Augusto França, Natureza Morta, Lisboa, Editora Arcádia, 1961, p 137.
[24]Código do Indígena, Decreto nº 16 199, p 2460.
[25]França, Natureza Morta… p.137.
[26]Código do Indígena, Decreto nº 16 199, p 2460.
[27]França, Natureza Morta… p.138.
[28]França, Natureza Morta… p.137.
[29] Fuba – farinha que pode ser de milho ou de mandioca..
[30]Código do Indígena, Decreto nº 16 199, p. 2466.
[31]Código do Indígena, Decreto nº 16 199, p. 2466.
[32]Código do Indígena, Decreto nº 16 199, p. 2466
[33]França, Natureza Morta… p.43-44.
[34]Código do Indígena, Decreto nº 16 199, p. 2466.
[35]Decreto de 9/11/1899, p. 1899.
[36]Decreto de 27/05/1911, p. 1911.
[37]Códgo do Indígena, Decreto nº 16 199, p 2466.
[38]França, Natureza Morta… p. 163.
[39]França, Natureza Morta… p. 169.
[40]França, Natureza Morta… p. 170.
[41]França, Natureza Morta… p. 171
[42]Segundo o Decreto nº 16 199, artigo 7º, patrão era a designação dada a todo o indivíduo ou entidade, pública ou privada, que estabelecesse contrato de trabalho com o indígena.
[43]Cf. Código do Indígena, Decreto nº 16 199, p. 2455.
[44]Cf. Código do indígena. Decreto nº 16 199, p. 2455.
[45] França, Natureza Morta… p. 178
[46]França, Natureza Morta… p. 182-189.
[47]França, Natureza Morta… p. 187.