Tópico(s) Artigo
Há episódios na génese de Portugal que se perderam entre o brilho das vitórias e a penumbra dos arquivos.
Entre os feitos que a memória consagrou e os gestos que a prudência esqueceu, existe um instante de severa ambiguidade: aquele em que D. Afonso Henriques, após a conquista de Lisboa, mandou escravizar mil homens moçárabes. O mesmo rei que a tradição coroou como libertador de terras e de almas decidiu, com mão firme e fé inabalável, reduzir à servidão cristãos que falavam árabe e rezavam, talvez, num latim esquecido.
Os moçárabes eram cristãos arabizados que viviam sob domínio islâmico nas cidades do Al-Andalus e do Al-Gharb. Conservavam a fé, mas falavam a língua do Alcorão, vestiam à maneira mourisca e participavam, com naturalidade, de uma cultura que se tornara mestiça. Quando Lisboa caiu, essas populações encontraram-se no centro de uma encruzilhada identitária. Aos olhos dos conquistadores, não eram muçulmanos, mas tampouco cristãos “puros”. Eram o que o século XII mais temia: seres de fronteira, híbridos, suspeitos, difíceis de classificar num mundo que via a salvação e a política com o mesmo olhar teológico.
A decisão de D. Afonso Henriques de escravizar mil desses homens inscreve-se na lógica implacável da Reconquista. O cativeiro, longe de ser uma exceção bárbara, era um instrumento aceite e legitimado pela mentalidade do tempo. O direito de guerra autorizava o vencedor a dispor do vencido, e a Igreja, embora pregasse a caridade, aceitava o resgate e a servidão como consequência natural da vitória. Nas palavras de José Mattoso, “a escravidão medieval era a tradução social da hierarquia espiritual que se acreditava existir entre os homens”. O rei português, homem do seu século, não fez senão aplicar o princípio: o poder funda-se também sobre a submissão dos corpos.
No caso dos moçárabes, a escravidão teve um sentido mais profundo que o simples saque de guerra. Ela exprimiu uma política de consolidação do território. O novo reino, ainda em formação, precisava definir quem pertencia e quem ficava fora do círculo da fidelidade régia. Escravizar mil moçárabes significava, em termos simbólicos, marcar a fronteira entre o cristão da cristandade latina e o cristão contaminado pelo Islão. Era um gesto de purificação política, mais do que religiosa: uma maneira de depurar a comunidade nascente da ambiguidade cultural que a enfraquecia.
O episódio não aparece na De expugnatione Lyxbonensi, crónica escrita por um cruzado inglês que participou no cerco de Lisboa. O autor, imbuído do fervor espiritual da cruzada, não se deteve em contradições. Procurava exaltar o milagre da conquista, não as sombras que o acompanhavam. Mas é precisamente nesse silêncio que se revela o peso da história. O que as crónicas calam é muitas vezes o que mais profundamente define uma época.
Com o passar dos séculos, o episódio desapareceu da narrativa nacional. A historiografia romântica, ansiosa por exaltar o génio fundador de Afonso Henriques, preferiu ver nele o santo guerreiro, o cavaleiro de Deus que libertou Coimbra e Lisboa e instaurou a pátria. Mas a História, quando lida com rigor, raramente confirma as hagiografias. Como lembra Hermenegildo Fernandes, o primeiro rei foi “um homem de fronteira, forjado na guerra e moldado por uma ideia de poder que não conhecia indulgência”.
Reconhecer esse lado obscuro não é negar a grandeza do fundador, mas restituí-lo à sua dimensão humana. O Portugal que nasceu da espada de Afonso Henriques nasceu também do trabalho forçado dos vencidos, da ambiguidade dos moçárabes e da necessidade de ordenar o caos da diferença. A nação emergiu da fé e da violência, da promessa de liberdade e do peso da servidão.
Os mil homens escravizados por D. Afonso Henriques não figuram nas epopeias, mas a sua ausência é um testemunho eloquente. Foram eles, anónimos e esquecidos, que sustentaram a ordem nova, que trabalharam as terras libertas, que construíram o reino sobre o qual se ergueria a ideia de Portugal. A sua história, quase apagada, recorda que toda a fundação traz no seu alicerce um preço oculto — e que a liberdade de uns, tantas vezes, nasceu da servidão de outros.
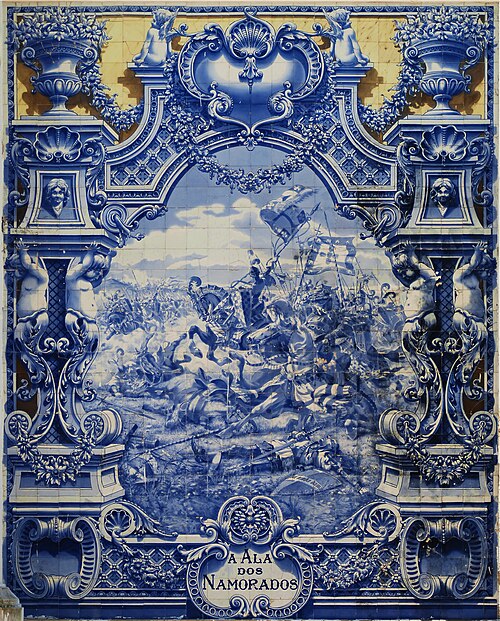
Paulo Freitas do Amaral
Professor, Historiador e Autor

